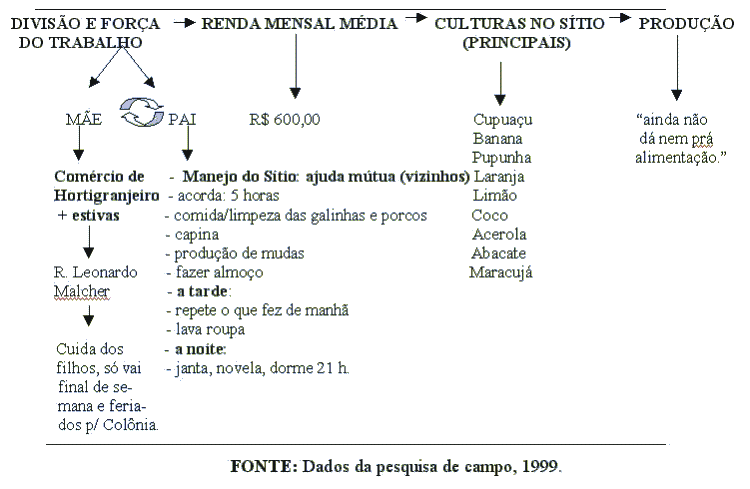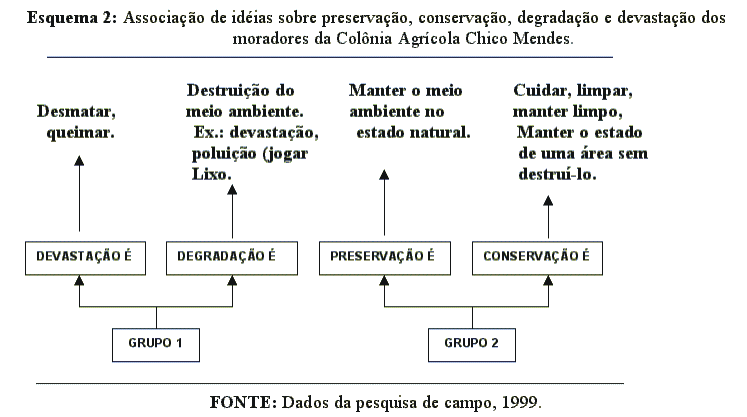CULTURA E AMBIENTE: UM ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DE IMIGRANTES DO INTERIOR DO ESTADO
SILVA, Maria do P. Socorro Chaves da 1
INTRODUÇÃO
A ocupação urbana da Colônia Agrícola Chico
Mendes é um fenômeno que caracteriza a ocupação
urbana em Manaus que, normalmente exige uma (re)territorialização
das populações humanas que chegam ao novo ambiente com
ausência de infra-estrutura social e sem outros recursos causados
pelo fantasma da condição de não-trabalho, tendo
como conseqüência imediata os impactos sócio-ambientais.
Assim, formula-se que a (re)territorialização poderá
depender ou não do que se chamou de elementos adaptativos. Como
se dá a geração de renda nas famílias? Os
motivos da migração estão relacionados à
geração de renda? Existem outros elementos influenciando
na necessidade de migrar? Quais os impactos sociais, culturais e ambientais
sofridos por essa população naquela área? Como
o meio ambiente será influenciado (ou transformado) por essa
população? Qual sua relação com a reserva
florestal Ducke? Face a isto, esta pesquisa busca compreender os conflitos
vividos pelas pessoas que moram na referida ocupação urbana
mediante as suas representações sociais sobre a área
protegida da Reserva Biológica Adolpho Ducke 2
e pelo entendimento dos significados dos termos de preservação/conservação
e degradação/devastação, busca-se descrever
e compreender a dinâmica de construção e reconstrução
da vida na área urbana, bem como as tendências e as modificações
causadas no novo ambiente. Esses conflitos envolvem representações,
cujos interesses ideológicos, políticos e econômicos
necessitam de uma compreensão teórica, face à nova
ética (Boff, 1995).
ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA
A coleta de dados baseou-se quantitativamente em dados secundários
e qualitativamente através da observação participante
e de entrevistas semi-estruturadas, das suas histórias de vida,
de técnicas grupais. As informações foram anotadas,
gravadas, transcritas e analisadas pela triangulação metodológica,
cuja abordagem vem da tradição hermenêutica de pesquisa.
Visando entender as representações socialmente compartilhadas
pelos sujeitos desta investigação fez-se uso, para análise
e tratamento dos dados, da técnica de associação
de idéias (Spink, 1995, pp.130-131), cuja análise centrou-se
na totalidade do discurso. Em seguida foi feito o mapeamento do discurso
a partir dos temas emergentes definidos a partir da leitura flutuante
e guiado pelos objetivos da pesquisa.
COMO VIVIAM EM SEUS LUGARES DE ORIGEM
Observa-se que, de acordo com sua cultura, as pessoas carregam consigo
os conhecimentos adquiridos nos lugares aonde nasceram e viveram por
longos anos, que é caracteristicamente o manejo com a terra e
prática da agricultura nas regiões dos rios Juruá
e Purus no Amazonas. Ao relatarem suas histórias de vida, procuram
explicar a diferença da utilização das matas entre
a cidade e seus lugares de origem, conforme realto: "Porque
lá aonde a gente morava tinha plantação, por isso
mesmo a gente gosta de plantios; porque a gente é acostumado
a plantar às vezes as coisas e tem uma grande diferença
aqui em Manaus, que é como todo mundo sabe as matas daqui são
completamente diferente, porque pra lá não tem essa diferença
que não pode faze uma casa, um roçado" (V.P.S.,
1999). Pois lá, as matas faziam parte de suas vidas, diferentemente
na cidade.
A VIDA NA COLÔNIA AGRÍCOLA CHICO MENDES
A Colônia Agrícola Chico Mendes é o território
por excelência, interesse capaz de abrir um diálogo para
acordos para a preservação da reserva Ducke. Eles consideram
importante a pesquisa na reserva, mas que redunde em benefícios
para a população. Antes da proibição e do
conflito as pessoas pegavam água, tomavam banho, se divertiam
e tiravam frutas. Hoje eles utilizam a água da reserva por necessidade,
pois não há água encanada na referida ocupação.
O esquema 1, contém o relato de uma família sobre como
vivem atualmente na Colônia Agrícola Chico Mendes, onde
a área de seu sítio corresponde a uma unidade produtiva
com projetos de investimentos e perspectivas de transformá-la
em seu principal meio de vida. Observa-se a divisão sexual do
trabalho familiar, onde o homem cuida do sítio como principal
fonte de renda e as funções da mulher são a venda
dos produtos no pequeno comércio na cidade e cuidar dos filhos.
Mas, atualmente conta com uma pequena produção de hortaliças
e de criação animal que, segundo relato, a renda ainda
não dá nem para alimentação.
Esquema 1: Modelo esquemático
do modo de vida num sítio da Colônia Agrícola Chico
Mendes.
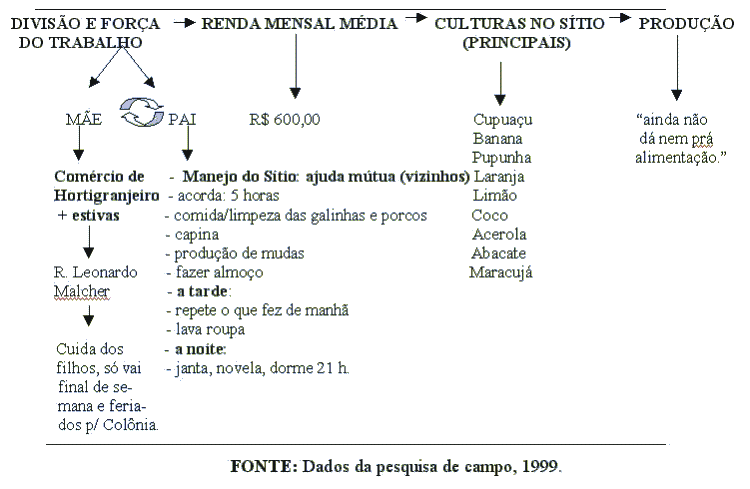
Entretanto, esse não é um modelo prevalecente. No geral,
as pessoas estão sem trabalho formal e sem capital para incrementar
os plantios, além da falta de mão de obra, pois seus filhos
foram criados com hábitos urbanos. Na realidade, a lembrança
do passado e a cultura que carregam consigo justificam a identificação
com a paisagem construída na Colônia Agrícola Chico
Mendes. Por isso consideram que a vida na cidade é melhor do
que a que levavam no interior do estado. Entretnato, o aqui é
melhor do que lá pode ser entendida como uma expressão
metafórica percebida nas representações dos imigrantes
no interior do estado, onde a cidade é sinônimo de barulho
e de zoada e a Colônia Agrícola Chico Mendes não
é cidade; lá, é como se fosse uma continuação
do modo de vida que levavam no interior, onde o silêncio e a tranqüilidade
se fazem presentes: "... Deus me livre, aqui é mesmo
que agente tá no interior né, e lá é diferente
daquelas agitação toda." (D. M. R., 1999) e "Aqui
é como no interior." (L. P. S., 1999).
REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE O INPA E
A RESERVA DUCKE
Os atuais moradores da Colônia Agrícola Chico Mendes reconhecem
a importância da reserva Ducke como fornecedora de oxigênio
e concordam com a proibição da entrada das pessoas, mas
que se utilizam da fonte de água lá existentes por necessidade,
conforme relatos: "é uma mata que trás até
oxigênio pra cá, né. Eu acharia que deveria ficar
fechada, mas no momento não pode porque a gente tá precisando
da água de lá. Mas depois que tiver água, não
tem problema, pode fechar; mas por enquanto a gente precisa bastante
como as outras pessoas." (I. N. S., 1999).
De acordo com a sua cultura, esses moradores consideram importante a
reserva Ducke por causa do que ela pode oferecer, mas querem o seu usufruto.
É um usufruto sem a idéia de degradação
ambiental, tendo em vista o modo de vida que levavam nos seus lugares
de origem, o interior do estado do Amazonas, cuja relação
com a natureza é diferenciada do modo de vida ocidental, conforme
relato: "Pra mim é importante porque protege as águas
e tem muitas fruta, mato, as árvore, os animais e também
se aproveitam muitas árvores aí, pra fazer remédio,
a gente pode tirar, usar." (N. M. F., 1999). Apesar de concordarem
com a proibição, colocam em evidência a sua utilização,
de alguma forma, por eles. De um lado, eles já utilizam a água
por necessidade; por outro, gostariam de utilizá-la como a utilizavam
em seus lugares de origem, como uma extensão do seu modo de vida,
tendo em vista a imensidão da floresta amazônica, como
por exemplo plantar roçado. Isto não pode nos levar a
concluir que eles não têm idéia do esgotável
ou do finito, pois à primeira vista parece que há uma
contradição. Mas, o que é mais sensato pensar é
a percepção de que os seus modos de vida não é
degradador da natureza. Segundo essa pessoa a reserva Ducke "é
uma mata que trás até oxigênio prá cá
né. Eu acharia que deveria ficar fechada, mas no momento não
pode porque a gente tá precisando da água de lá.
Mas depois que tiver água, não tem problema, pode fechar;
mas por enquanto a gente precisa bastante como as outras pessoas."
(I. N. S., 1999). Observa-se nesse relato a diferença percebida
por essa pessoa das matas do interior do Estado com as da cidade de
Manaus - ela generaliza a relação quando fala em "as
matas daqui". Esse conflito acontece porque lá em seus lugares
de origem conviviam com a natureza e dela faziam uso, mas como parte
de suas vidas. Por esses motivos o modo de vida na cidade lhe é
estranha, onde a grande mata da reserva Ducke é vista como possibilidade
de usufruto dentro da perspectiva cultural.
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PRESERVAÇÃO
E DEGRADAÇÃO
A análise inicial, a fim de avaliar o nível de conhecimento
expresso nessas representações de preservação
e conservação, foi de caráter comparativa das referidas
categorias de palavras do esquema 1 com os conceitos do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC). Inicialmente, pediu-se
para escreverem num papel o entendimento que os grupos tinham das referidas
categorias de palavras. Dos conceitos elaborados pelos dois grupos,
montou-se um esquema pela associação de idéias,
expressas no esquema 2.
Esquema 2: Associação de idéias
sobre preservação, conservação, degradação
e devastação dos moradores da Colônia Agrícola
Chico Mendes.
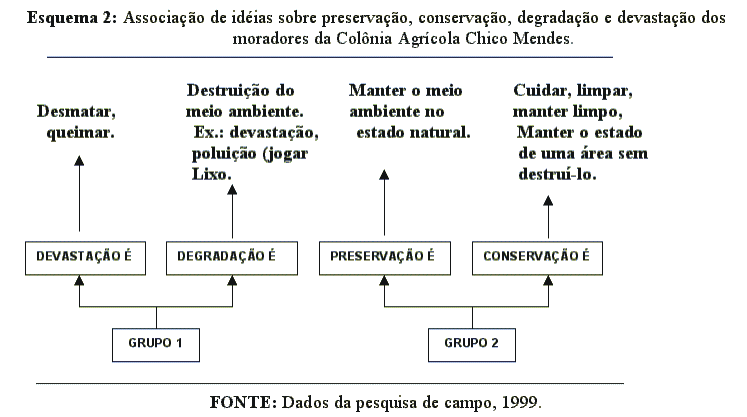
Comparativamente, as representações sociais se equivalem
do ponto de vista da simplificação, pois o conceito de
degradação e devastação do grupo 1 são
semelhantes, já que este citou como exemplo de degradação
a devastação. Contudo, conforme observa Lévi-Strauss
(1976, p.29), tanto o conhecimento mágico quanto o conhecimento
científico respondem a exigências intelectuais para satisfazer
necessidades práticas. Neste sentido, segundo o grupos de moradores
a ação inicial deles naquele ambiente caracterizou um
exemplo de degradação/devastação 3:
Observa-se, no entanto, que na prática as idéias de preservação
e conservação se confundem, e não está ligada
ao que se chama de ambiente natural (ou mata primária). Isto
é, há uma relação utilitária daquele
ambiente. A idéia de preservação aparece relacionada
não necessariamente à natureza, mas sim a um objeto que
precisa de cuidados: "preservação é um
objeto que a gente conserva prá não destruir."
(O.L., 1999).
No depoimento a seguir a idéia de preservação está
ligada à natureza intacta e conservação à
utilidade, onde esses conceitos são entendidos de forma mais
geral e abrangente; a uma ação a um determinado objeto
e, no caso para explicar que eles preservam e conservam àquele
ambiente: "preservação é um apelo quando
se refere ao meio ambiente, ao seu estado natural. E, eu acho conservação,
por exemplo, manter limpo, conservado prá não destruir;
é o caso de uma área, de um sítio... é conservar
e não destruir." (D.M.R., 1999). Assim, um ambiente
transformado por eles é bonito e foi um ato de conservação:
"conservar é tratar e fazer alguma coisa bonita, se o
cara conservar vai ficar bonito. É cultivar, plantar pra chegar
a esse ponto." (N.L.P., 1999).
O nível de conhecimento do senso comum presentes nas RS sobre
preservação/conservação e devastação/degradação
possui fragmentos dos conceitos científicos. Ficou evidente a
defesa de território daquela área e a possibilidade de
diálogo entre as representações da reserva Ducke
e a sociedade em geral para o gerenciamento dos recursos do ambiente.
BIBLIOGRAFIA
A CRÍTICA E O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO. Imre Lakatos
e Alan Musgrave (Orgs.); traduzido por Octávio M. Cajado. São
Paulo: Cutrix, 1979.
ABELÉM, A. G. Meio ambiente: qualidade de vida e desenvolvimento.
Belém: UFPA, 1992, 140p.
BECKER, H. S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais.
São Paulo: Hucitec, 1993.
BOFF, Leonardo. Ecologia: Grito da terra, grito dos oprimidos.
Rio de Janeiro: Ática, 1995.
BRASIL. Projeto de Lei No 2.892 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) - Texto aprovado na Comissão de defesa do consumidor,
meio ambiente e minorias da Câmara dos Deputados. Brasília,
1992.
CASTELLS, M. & IPOLA, Emílio. Prática epistemológica
e ciências sociais. 4ª edição, 1973, p.13.
DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 5ª ed.,
Campinas: Autores Associados, 1995.
DESCOLA, P. Estrutura ou sentimento: a relação com o animal
na Amazônia. In: Mana, 1998, vol. 4, n.º 1.
DESCOLA. Ecologia e cosmologia. In: Faces do trópico úmido:
conceitos e questões sobre desenvolvimento e meio ambiente.
Belém: MPEG, 1997, p. 243-261.
ENGELS, Friedrich. A dialética da natureza. 3a. Ed., Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1979, v.8.
FARR, Robert M. Representações sociais: a teoria e sua
história. In: Textos em Representações Sociais.
Pedrinho A.Guareschi e Sandra Jovchelovitch (orgs.). 2ª edição.
Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 31-59.
FLORESTAN, Fernandes. Elementos de sociologia teórica.
São Paulo: Editora Nacional, 1969.
GLOSSÁRIO DE ECOLOGIA. 2ª edição, São
Paulo: AC/EST-103, 1997.
LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. Tradução
de Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Moraes, 1991.
LÉVI-STRAUSS, C. A ciência do concreto. In: O pensamento
selvagem. Comp. Edit. Nacional. (1962b), 1976, p.20-97.
Marx e Engels - Coleção Grandes Cientistas Sociais.
Florestan Fernandes (Org.). São Paulo: Ática, 1988, p.
381-364.
MORÁN, Emílio F. A ecologia humana das populações
da Amazônia. Petrópolis: Vozes, 1990, 367p.
MOSCOVICI, Serge. Prefácio. In: Textos em Representações
Sociais. Pedrinho A.Guareschi e Sandra Jovchelovitch (orgs.). 2ª
edição. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 7-16.
______. La psycanalise: Son image et son public. École
des Hautes Etudes en Sciensis Sociales: Paris. Texto avulso, 1961.
NODA, H. & NODA, S. N. Produção de alimentos no Amazonas
- Uma proposta alternativa de política agrícola. In: Bases
científicas para estratégias de preservação
e desenvolvimento da Amazônia. Vol. 2, Manaus: INPA, 1993.
POSEY, D. Addison. Os povos tradicionais e a conservação
da biodiversidade. In: Uma estratégia latino-americana para
a Amazônia. São Paulo: UNESP, 1996, vol. 1, p. 149-157.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço - Técnica e tempo.
Razão e emoção. 2ª ed. São Paulo:
Moraes, 1997.
SPINK, Mary Jane. Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia
de análise em representações sociais. In: Textos
em Representações Sociais. Pedrinho A.Guareschi e Sandra
Jovchelovitch (Orgs.). 2ª edição. Rio de Janeiro:
Vozes, 1995, p.117-145.
SILVA, M.P.S.C. da. Representação social sobre meio
ambiente dos moradores das comunidades vizinhas à reserva Ducke.
Relatório técnico científico. Manaus: INPA/CNPQ/PCI,
1998.
SILVA, M.P.S.C. da. Representação social da vida urbana
e seus impactos sócio-ambientais em Manaus - Dissertação
de mestrado. INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS/UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, 2000.
1
Engenheira Agrônoma, M. Sc. Ciências Humanas, Profa. da
Escola Superior Batista do Amazonas (ESBAM) e membro do Núcleo
de Estudos Rurais e Urbanos (NERUA).
2 A Reserva Biológica
Adolpho Ducke compreende uma área de 10.072ha, situada a Leste
da cidade de Manaus, sob jurisdição do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (INPA).
3
Cientificamente, degradação é um "processo
gradual de alteração negativo do ambiente, resultantes
de atividades humanas que podem causar desequilíbrio e destruição
parcial ou total dos ecossistemas"; devastação é
o "processo de extração, destruição
ou supressão de todos ou da maior parte dos elementos de um determinado
ambiente." (....). Cf. GLOSSÁRIO DE ECOLOGIA. 2ª edição,
São Paulo: AC/EST-103, 1997
|